Estamos em dezembro, o frenesim apontado às festas do Natal e de fim de ano recrudesce. A ansiedade pelo sentir próprio desta altura do ano, seja ele qual for, é imensa: talvez não haja outra altura do ano que se compare a esta no que toca a emoções.
Acrescem, no nosso País, as emoções que se relacionam com a dissolução da assembleia da república e consequente ida às urnas. Multiplicam-se as movimentações dos diversos partidos, com particular destaque para o que ocupou o poder nos últimos anos. A sua preparação eleitoral implica a escolha de um novo líder. Algo que nem é mau, na medida em que aumenta o espaço mediático que ocupa, levando a que os outros tenham de encontrar formas de o disputarem, algo que não se afigura fácil, mesmo que, por momentos, alguns parecem conseguir.
Este tipo de emoções, gera, também, ansiedade, a qual, no entanto, é mitigada pelas festas, para voltar a todo o vapor no princípio do ano. A indeterminação, desta vez, talvez seja maior. Porém, ela não terá tanto a ver com o vencedor, mas sim, com a forma de constituição do poder na próxima legislatura. A atomização parlamentar parece ter cá chegado para ficar, o que obriga a arranjos, que apesar das inúmeras juras de possibilidade ou não, de coligação, ou apoio parlamentar, ainda não se mostram muito claros. Nada se poderá descartar, tal como a moda da dispersão partidária, a moda de elaborar coligações improváveis e ação política que já não esconde o verdadeiro objetivo do político – o poder – é uma realidade a que nos vamos habituando neste ocidente onde se propala a democracia dita liberal. Apesar disso, a verdade é que essa realidade não tem idade suficiente para o seu estudo poder fornecer resultados que possibilitem alguma conclusão – se é que alguma vez vai ser possível – sobre o efeito da dispersão parlamentar.
Ao contrário daquilo que parece ser a intuição de muitos, uma, aparente, maior representação nos parlamentos por essa Europa fora, não tem significado conquista de direitos, pelo contrário, tem, até, de acordo com Ian Shapiro [1] (um afamado cientista político de Yale) contribuído para a erosão de uma série deles.
É verdade que a perceção do povo português relativamente à última maioria absoluta – ou até, se calhar, a qualquer uma delas – não é a melhor, no entanto, parece também ser claro que a tomada de decisão atempada e efetiva não é compatível com um parlamentarismo tão alargado. Este é um argumento dos antiparlamentarismos defendidos, por exemplo, entre outros, por Carl Schmitt [2] (não, não foi um pensador nazi) e Walter Benjamin[3], já há 100 anos. Todavia, o perigo totalitário obriga a algum tipo de controlo representativo: talvez o envolvimento do povo tenha de ser maior. Maior não em termos de quantidade, mas sim, em responsabilidade: o escrutínio popular deve apontar ao amadurecimento ético no seu relacionamento com as instituições.
Eduardo Silva
Eng.º Civil
——————————————-
1. Rosenbluth, F.M., e Shapiro, I. (2018) Responsible parties: saving democracy from itself, Yale University Press, New Haven London.
2. Schmitt, C. (1996) A crise da democracia parlamentar, Editora Página Aberta, São Paulo.
3. Benjamin, W. (2010) Sobre a crítica do poder como violência, in O anjo da história, Assírio & Alvim, Lisboa, pp. 49–71.






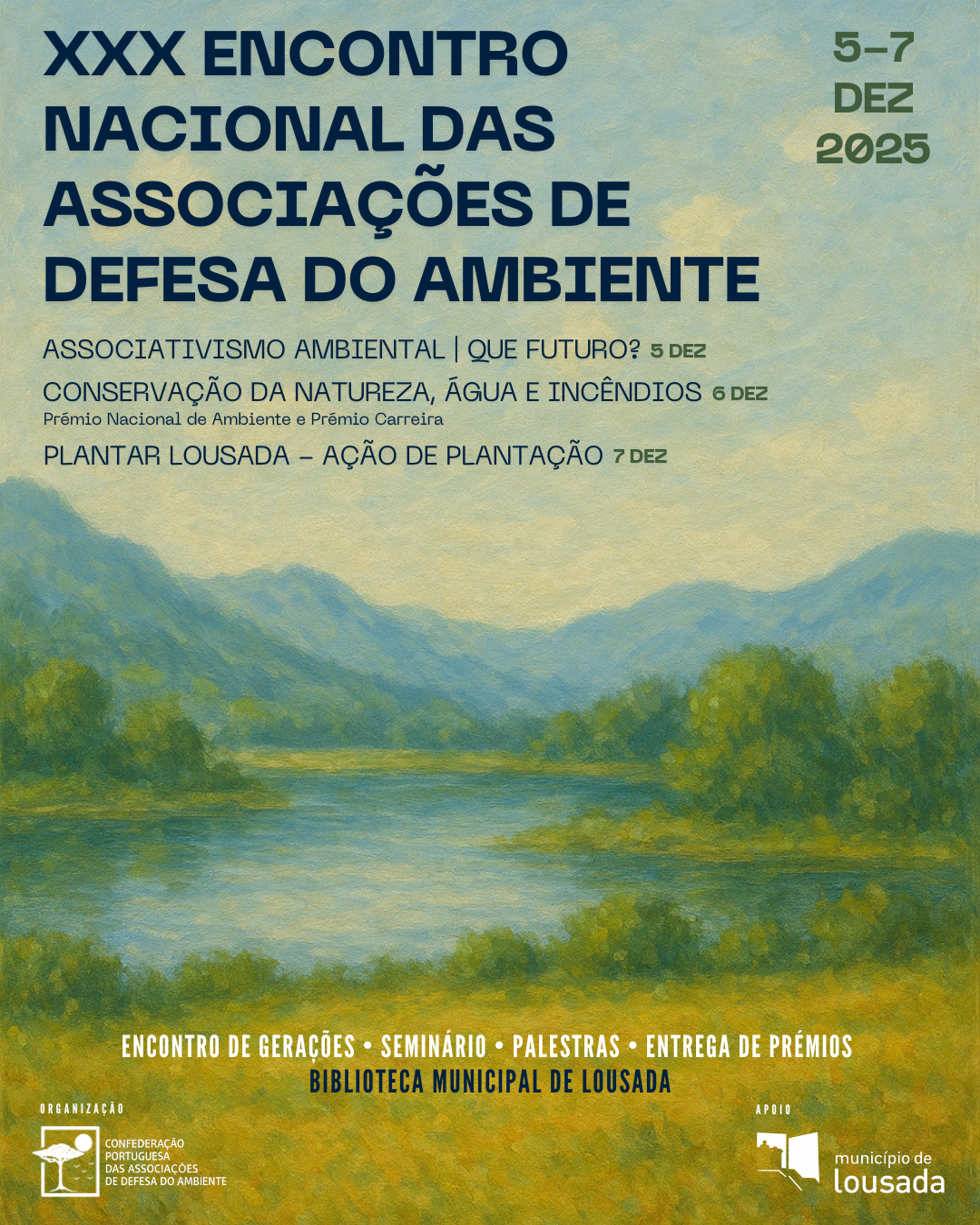



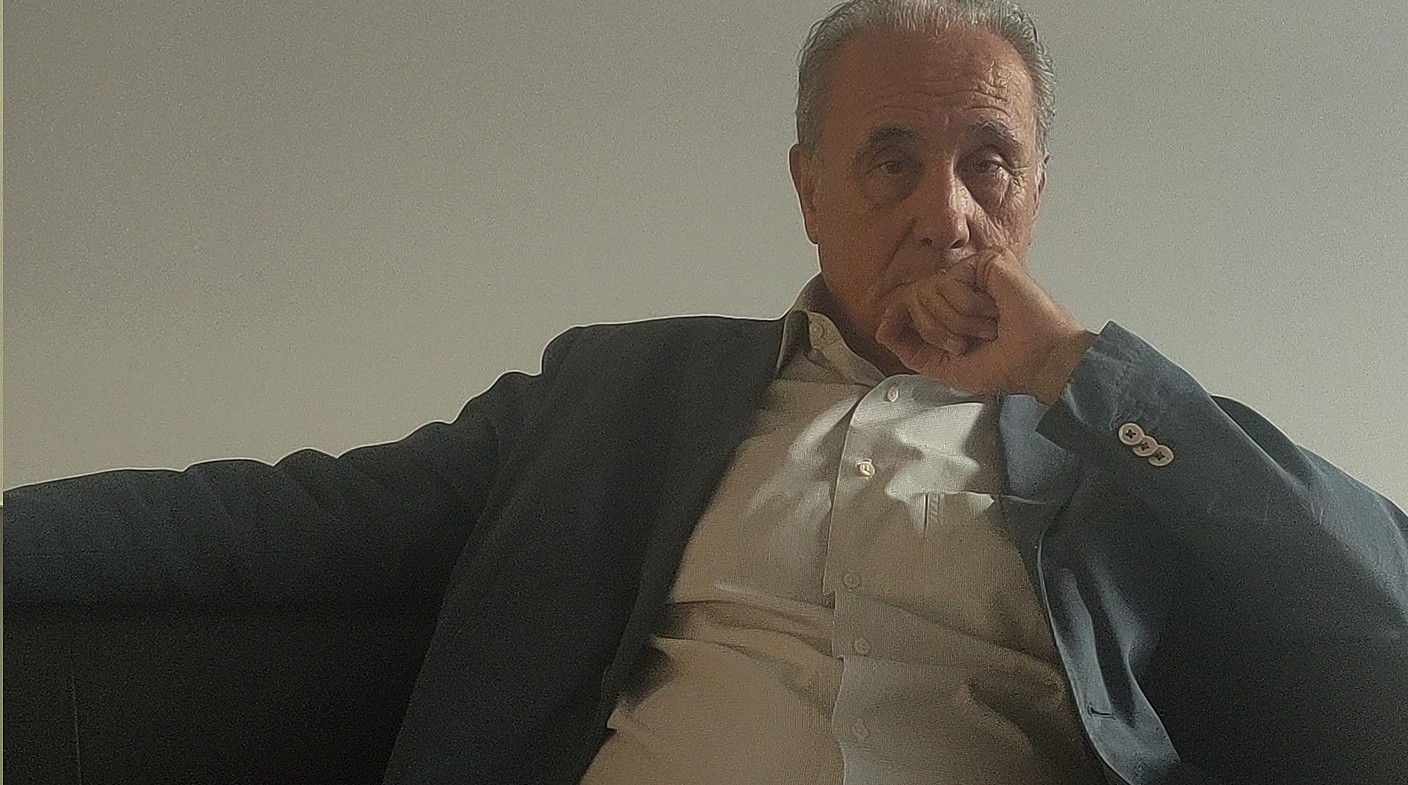


Comentários